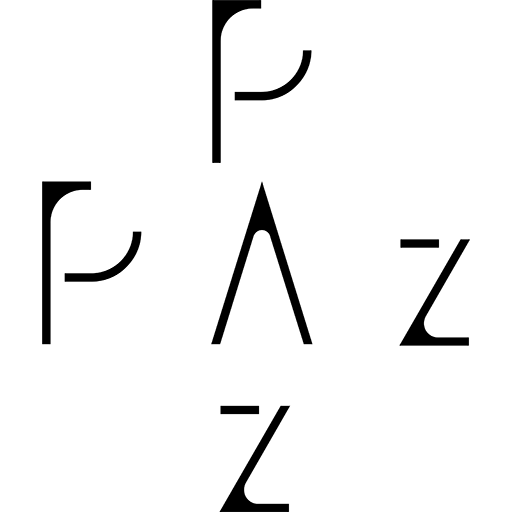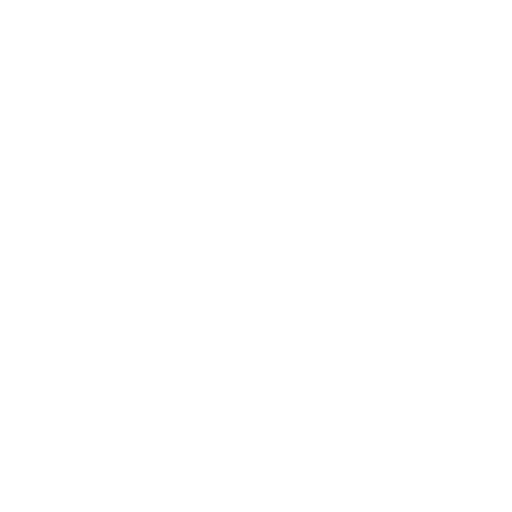ocupemos esse enorme terreno baldio

O intérprete João Silva em cena, na cidade de Campinas/SP – foto: Filipe Itagiba
Ao invés de um uniforme ou figurino, uma armadura: o “terrorista” se veste com armas violentamente distribuídas na utopia do corpo. O rito ou arte de passagem antecede a expressão do sagrado como tal e do profano enquanto movimento (dança, se assim pudermos enunciar). Desse modo, ele espera tocar o alarme que tem no coração (no peito) para, a seguir, semear a tensão na cidade. O “homem-bomba” veste pela enésima vez sua armadura, enquanto terrorista entende a arte como arma, projétil. Vai começar mais um espetáculo.
Em Guy Debord, aprendemos que “o espetáculo não é apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens” (p.14). O intérprete-criador transita no espaço de mediação: seu corpo, sua religião; seu trabalho são substantivos que se justapõem na construção de uma identidade. Na via de mão dupla se confunde na qualidade de um verbo de ligação, ou como nos lembra Nietzsche “o homem não é mais artista, tornou-se obra de arte, a potência artística da natureza inteira”.
De diferentes formas, a cidade se torna extensão do corpo – a cidade urge pela ocupação vivenciada por meio de estratégias criativas e inovadoras: arquitetura de corpos, geografia de vozes, história de ritmos e ou cartografia de palavras. Esse trânsito de saberes nos faz refletir que somos também uma parte ativa e inacabada da cidade: ela, assim como o ser humano, nunca estará pronta. Refutando a banalização da violência e o discurso de acessibilidade seletiva dos espaços urbanos conforme o erguer de muros simbólicos ou não, plantemos mudas de afetos – basicamente isso: sementes e húmus na forma de contato; aliás de “tato com”. Aproximando-se cada vez mais dessa perspectiva podemos quem sabe narrar outra versão de nossos passos na cidade.
A cidade como memória
A cidade que segue (aberta, em percurso, em construção) – ressignificada, sonhada, inventada, a cidade como obra de arte; o corpo e palavra suas gramáticas políticas mais potentes de interferência; não, não se trata de intervenção como muitos consideram as ações no espaço urbano e público – não somos Polícia, Direito, Medicina Psiquiátrica ou Estado. O que perseguimos na função de atores sociais é a proposição de outros espaços tempo; sem essa utopia a arte se faz inócua, non sense e esvaziada.
Na memória da cidade, estamos atentos à emancipação de outros sentidos e semânticas das configurações dispostas – uma semiótica cada vez mais responsável, mas também desobediente em contrariar os fluxos de uma economia adoecida e limitada do olhar: refiro-me à necessidade (não mais adiada) de descolonização dos estigmas. A cidade é um mosaico, um quebra-cabeças que curiosamente não traz em seu conteúdo uma quantidade de peças exatas que complete a equação; seu emaranhado não tem fim. Portanto, cabe-nos percorrê-la e redescobri-la: é preciso reaprendermos a andar por aí sem tanta correria – a pausa pode ser o nosso melhor movimento neste turbilhão de desencontros. A memória está ativa e isso é bem mais amplo do que a ideia limitada de “lembrança” e “segurança”.
Por quê tirar as crianças e adolescentes da rua?
Quando os Paralamas do Sucesso em “Selvagem” cantaram “meninos nos sinais, mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem ver o grande monstro a se criar”, eles nos diziam (ou indiziam!?) sobre alguns dos graves efeitos da “invisibilidade social” no Brasil, no final de década de 80. O tema continua atual, mas como outra resposta sugiro que o artista além de porta-voz, seja também agente direto de humanização das vias públicas – trata-se mais uma vez de afirmar a ocupação da cidade: interrogá-la como dimensões do social, político e estético.
Se por um lado essa imagem recorrente gera uma sensação de impotência na sociedade ou recoloca o imaginário do medo como princípio da intolerância, por outro lado serve como combustível ou nutriente à proliferação de projetos que visam a desocupação das ruas – não se enganem (e aqui me coloco em militância): todo este cenário encarnado na idealização ideológica inclusiva de que “é melhor estar numa sala de aula ou n atividades protegidas, do que nas ruas, pertinho do perigo das ruas e das drogas” é também uma forma bastante lucrativa de empresas e, sobretudo, do poder público repassar seu dever ao terceiro setor, e esse (por sua vez) amontoar crianças e adolescentes ao invés de educa-los e dar as ferramentas para a mudanças dos estigmas que os condenam como protagonistas do “mito das classes perigosas”. A rua é a parte principal do currículo que a Escola teima em ignorar.
Ora, se a rua é o maior espaço da diversidade do mundo, por que não humaniza-la de modo lúdico (e brincar é a melhor política para romper com a indiferença do desafeto), ao invés de demoniza-la a justificar o fortalecimento do estado penal? Esses novos, nem tão novos assim, dispositivos de controle da vida são máquinas de gastar gente: engodos para continuar protegendo a propriedade; a própria vida dos corpos que pesam mais em detrimento daqueles que pesam menos – desse tipo de terrorismo não precisamos mais. É preciso rever esse dilema: a cidade abre possibilidades estéticas, basta pausar. A cidade é palco e é aqui que eu moro. Pode chegar!
Referências:
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
NIETZCHE, F. W. O nascimento da Tragédia ou Grécia e pessimismo. São Paulo: Escala, 2011.
SUCESSO, Paralamas do. SELVAGEM? EMI, 1986.